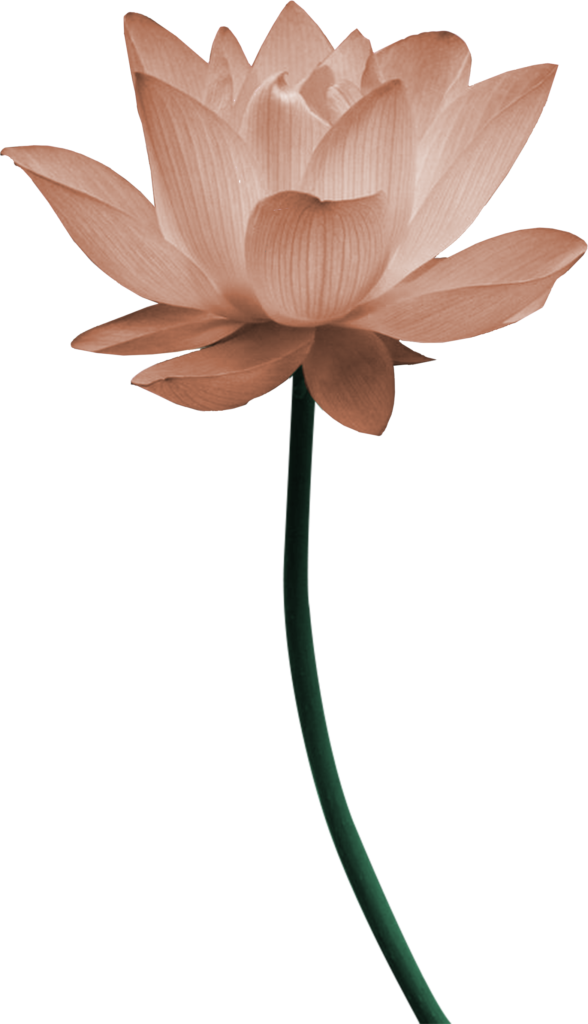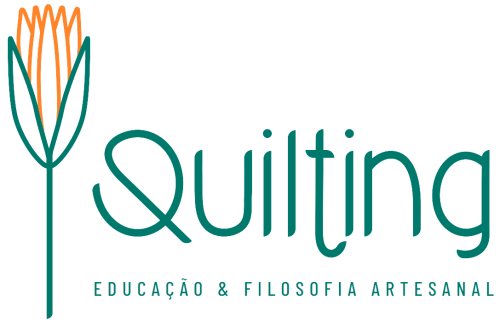Blog
Destaques
Últimas Postagens

Ecofeminismo(s): Por Que Mulheres, Animais e Natureza Sob o Mesmo Olhar?
Qualquer tema contra-hegemônico suscita críticas e questionamentos, especialmente por parte daqueles que querem manter a supremacia e não abrir mão de seus privilégios. Assim acontece com feminismos, ambientalismos e quaisquer movimentos que denunciem sistemas de opressão por raça/etnia, gênero, orientação sexual, classe e assim por diante. Quando compreendemos os direitos humanos como conquistas históricas, já nos parece mais visível a necessidade de um olhar atento às especificidades: não podemos mais afirmar direitos para sujeitos abstratos, pois, em realidade, eles representam um sujeito muito bem definido: ele é branco, heterossexual, classe média. Mas diferentes correntes feministas já nos mostraram também que tampouco se pode falar de uma mulher abstrata: temos cores, crenças, idades e desejos diversos. Uma mulher negra, lésbica e pobre sofre desproporcionalmente a opressão e as injustiças, se comparada a uma mulher branca, cis, hetero e rica. Hoje, embora se tenha essa visão das especificidades que afastam uma concepção universalista, ao longo dos últimos séculos, o pensamento feminista tem se expressado de diversas maneiras, por isso falamos em feminismos, no plural e não no singular. Cada uma dessas ondas, ou correntes, apresentam diferentes argumentos e fazem diferentes propostas, mas o comprometimento de todas é com a abolição do sexismo, ou seja, de um sistema de opressão baseado no sexo. Nesse sentido, muitas dessas correntes usam duas categorias fundamentais para o paradigma feminista: gênero e patriarcado. Mesmo que exista um longo debate sobre ambas, parto da ideia de que o patriarcado pode ser entendido como dominação masculina. Desse ponto de vista, se reconhece que a forma pela qual essa dominação ocorre depende do contexto, mas continua sendo a partir da alegada superioridade dos homens em relação às mulheres, gerando discriminações e injustiças. Gênero, por sua vez, passa a ser uma categoria de análise a partir da qual é possível compreender essa sociedade. Os papeis dos homens e das mulheres são construídos socialmente – e em oposição – a partir do sexo, determinando que o espaço público é deles e o privado é nosso. Nessa lógica, nossa voz é silenciada e a própria legitimidade de reivindicarmos nossos direitos é questionada pelo machismo, de forma misógina. Por trás desse pensamento funciona uma lógica dualista que associa os homens ao público e as mulheres ao privado, de forma também assimétrica, na medida em que os primeiros são mais valorizados em detrimento das mulheres e da esfera privada. Mas, afinal, qual é a relação entre a opressão das mulheres pelo machismo, e os animais e a natureza? As correntes ecofeministas apresentam diferentes respostas para essa pergunta, por isso podemos novamente chamar de ecofeminismos, no plural. Aliás, é importante ressaltar que nem todas elas incluem a consideração ética de animais, como indivíduos. Justamente por isso me posiciono a favor de um ecofeminismo animalista, a partir de uma argumentação filosófica, isto é, argumentativa e conceitual[1]. Na literatura ecofeminista, podem ser identificadas diversas interconexões entre a dominação das mulheres, dos animais e da natureza: histórica, conceitual, empírica, socioeconômica, linguística, simbólica e literária, espiritual e religiosa, epistemológica, política e ética[2]. Todas essas interconexões reforçam a necessidade de analisar criticamente os dualismos a partir dos quais nossa sociedade está estruturada, especialmente rompendo a barreira da espécie e, a partir da ampliação do círculo de moralidade, considerar também moralmente os animais e a natureza. Embora todas sejam importantes para corroborar a necessidade de um olhar atento às relações entre diferentes formas de opressão, a conexão empírica evidencia de maneira explícita essa necessidade: são as mulheres, ao lado de outros grupos em situação de vulnerabilidade, que sofrem mais com os problemas ambientais. Embora todas as pessoas possam estar sujeitas a eles, são as mulheres e crianças, por exemplo, que precisam caminhar longas distâncias para buscar água; a pobreza e a vulnerabilidade também têm gênero e leva as mulheres, muitas vezes líderes das suas famílias, a viverem em locais com problemas ambientais, como ocupações. Assim, podemos afirmar que os papeis de gênero femininos se justapõem com a questão ambiental, o que justifica uma ampliação da agenda feminista, a fim de que incorpore também uma visão não antropocêntrica e antiespecista. Ao reconhecer o nexo (a partir das diferentes formas de interconexão) entre os sistemas de opressão (racismo, classimo, heterossexismo, machismo, especismo etc.), o ecofeminismo animalista permite uma visão ampla das diferentes formas de opressão, dando sentido ao olhar direcionado tanto às mulheres quanto aos animais e a natureza. Publicado originalmente no Modefica, na série “Ecofeminismo: Mulheres e Natureza”, em 14/10/2016 [1] Pela importância que a conexão conceitual apresenta para a filosofia ecofeminista, ela será tratada especificamente no próximo texto da série. [2] Essas são as interconexões identificadas pela filósofa Karen J. Warren, no livro Ecofeminist Philosophy. Uma análise do alcance e dos limites da obra de Warren pode ser encontrada em ROSENDO, Daniela. Sensível ao cuidado: Uma perspectiva ética ecofeminista. Curitiba: Prismas, 2015.

Corpo são, mente sã
Dia desses, passei algumas horas me conectando comigo mesma, com meu corpo – tão negligenciado nos últimos anos – numa oficina de danças afro. Recentemente, percebi que tratei meu corpo como mero meio (para o trabalho mental), ao invés de dispensar um tratamento digno que o considerasse um fim em si mesmo. No entanto, dessa constatação não decorreu imediatamente um movimento de superação desse limite. Cada vez que uma médica ou uma terapeuta me recomendava fortemente fazer atividade física (sob a pena de meu corpo me impor limites e me fazer parar e olhar para ele, da pior maneira possível), eu imediatamente criava barreiras e pensava como seria difícil transpor minha absoluta falta de vontade para ir à academia ou, se eu não estivesse interessada nesse ambiente fechado (como nunca estive), simplesmente sair para caminhar como parte da minha rotina diária. Tentei fazer alguns movimentos em direção a essa superação. Por três anos consecutivos, consegui fazer pilates com uma profissional que me acolheu e entendeu os meus limites. Apesar de as aulas terem sido muito prejudicadas, em alguns períodos, pela minha rotina de viagens a trabalho e estudo, tive uma professora que sempre manteve o seu compromisso em me ajudar e possibilitar que eu saísse da aula melhor do que eu havia entrado. Eu chegava sempre com tantas dores na lombar e na cervical que, em todos esses anos, eu mal consegui sair do alongamento e trabalhar força. Não tenho dúvida que essa prática foi crucial para que eu não tivesse literalmente travado nestes últimos anos, mas ainda me faltava fôlego. Lembro bem de um episódio que aconteceu em janeiro de 2015. Eu estava de férias e, numa passagem por Porto Alegre, fui ao cinema assistir Brincante – o Filme, que – de forma lírica – conta a história do artista pernambucano Antônio Nóbrega. Aos meus olhos, biografia, resistência e a lindeza da cultura popular se fundiam em perfeita harmonia. Em algum momento do filme, desatei a chorar e a me perguntar: “o quê que eu tô fazendo com meu corpo?” Tonheta, o personagem, perguntava: “Estás com goteira no pulmão ou engarrafamento nas artérias? Estás com ferrugem nas juntas ou soltura nos intestinos?” Apesar de ter sido muito tocada – senti uma vontade imensa de sair da sala de cinema pulando e brincando – fui incapaz de mobilizar esse desejo e transformá-lo em ação. Muitas e muitas vezes eu me perguntei sobre os motivos desse descompasso. Na escola, eu sofria com as aulas de educação física e tinha vontade de sumir quando saíamos da sala para ir à quadra. No mata-soldado, era o meu medo de ser acertada pela bola que fazia com que, de vez em quando, eu fosse uma das últimas a ser o alvo – para aumento da minha tortura. Eu costumava associar o medo de ser machucada pela bola ao fato de não ser boa nos esportes coletivos, à dificuldade para lidar com a competitividade, à timidez e à vergonha. Recentemente, assistindo esse vídeo de Louie Ponto, percebi que talvez o que eu considerasse ser timidez e vergonha era também ansiedade, mas esse já é outro assunto. Além disso, desde a pré-adolescência, quando comecei a andar um pouco mais sozinha pela cidade, a pé ou de ônibus, eu me sentia ultrajada com qualquer tipo de assédio. Era um misto de repulsa e medo daqueles homens que mexiam com um menina na rua, que anos depois – já feminista – fui compreender como uma forma de violência. Acredito que essa combinação do assédio com a preguiça que me acompanhou durante a adolescência marcaram, ao menos em parte, a minha forma de estar no mundo até hoje. Mas, apesar da falta de aptidão para os esportes e da preguiça juvenil, tinha algo que eu amava: dançar. Aos 7 anos, comecei a fazer jazz. No início, eram duas vezes por semana. Uns três anos mais tarde, fui promovida à turma das meninas mais velhas e passei a ir três vezes por semana. Eu gostava tanto, mas tanto, de dançar que houve épocas em que eu não andava: eu me deslocava dançando. Eu acompanhava minha mãe na fila dançando; eu saía da mesa do almoço e ficava fazendo espacate na cozinha. Eu tinha uma flexibilidade incrível! Uma vez, minha prima ficou tão irritada comigo que me mandou parar de dançar. Não lembro se estávamos num estacionamento de mercado ou num shopping. Fiquei meio chocada e bastante constrangida com a reação dela (minha prima era minha ídola), acho que fiquei um pouco quieta em seguida, mas não me abalei por muito tempo. Depois de 5 anos de jazz, aos 12 anos eu parei abruptamente de fazer atividade física. Apesar do amor pela dança, eu me vi limitada onde estava e, sem ver a possibilidade de seguir por outro caminho, desisti. Na cidade onde nasci e fui criada, Joinville, acontece o maior festival de dança da América Latina. O lugar onde eu fazia jazz era uma sociedade recreativa de uma grande empresa da cidade, perto de onde eu morava, e, portanto, ficávamos no campo do amadorismo. Em julho, quando acontecia o festival, chegávamos a nos apresentar em alguns palcos livres – em shoppings, praças e empresas -, mas nunca competimos, nem chegaríamos a fazê-lo. Desconfio que meu sonho não era necessariamente competir, mas ser uma dançarina melhor e mais reconhecida. Eu queria ser boa na dança; não necessariamente a melhor. Tinha algo de superação individual… quando cheguei num limite intransponível para mim naquele momento, desisti. A única saída que eu vislumbrava era mudar para uma escola de dança melhor, mas isso significava uma mensalidade bem mais cara – que naquele momento minha família não poderia suportar. Nessa época, além da escola privada, eu já fazia um curso de inglês em uma boa escola. Eu já era bastante privilegiada, apesar de levar muitos anos para reconhecer isso depois. Contudo, passei duas décadas sofrendo com a ausência da dança no meu dia-a-dia. Levei todo esse tempo também para ir novamente assistir uma apresentação
Mais Vistos

Refundar o pacto

Da violência ao cuidado

A nós, cara gente branca

Vegan Washing

Entre Oriente e Ocidente, sou latina

Nós, as Vulneráveis: a Dimensão Ética-política do Cuidado de Nós Mesmas