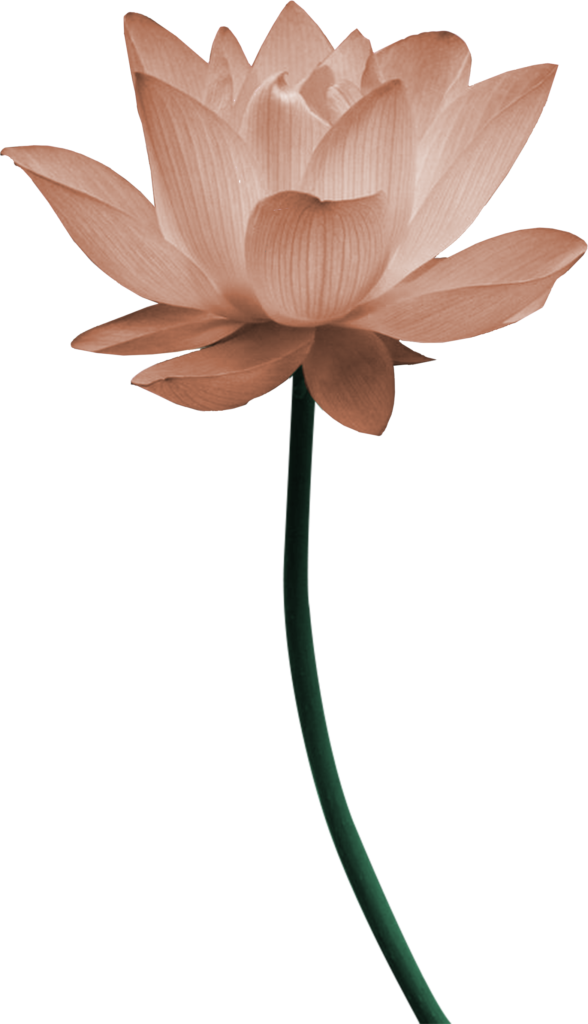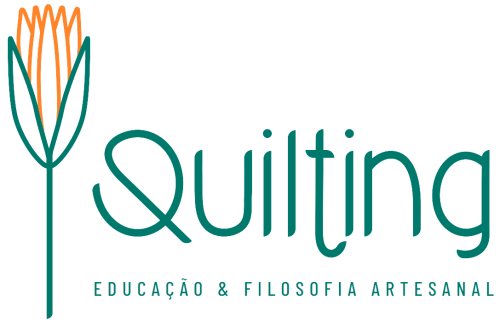Vegan Washing
O que há para se comemorar com a possibilidade de israelenses optarem por alimentação vegana, botas e boinas sintéticas ao servirem o exército? Muito pouco, eu diria. É preciso ampliar o olhar para além dessa possibilidade de escolha para quem cumpre o serviço militar e ver em qual contexto essa questão se insere. Isso quer dizer que não devemos comemorar “pequenas vitórias”? Não, afinal sabemos que a exploração dos animais não acabará de um dia para o outro e que mudanças estruturais podem levar um bom tempo. A questão sobre a qual quero chamar a atenção aqui é em relação ao uso dos direitos animais com outras intenções que não, de fato, promovê-los. Em Israel, homens são obrigados a servir por 3 anos e mulheres por 2. Passado esse tempo, homens ainda precisam cumprir de 30 a 60 dias a cada ano, até completarem 40 anos de idade. Para a maioria dos/das jovens isso é algo plenamente normal, pois desde a infância vivem em uma sociedade altamente militarizada. Na escola, aprendem a contar com bandeiras, aviões, tanques e outros símbolos que visam institucionalizar a conexão entre a militarização e a paz. Ao contrário do que orienta o Direito Internacional, há permissão para civis portarem armas e, portanto, as crianças crescem acostumadas com elas ao ponto de chegarem aos 18 anos e andarem tranquilamente portando fuzis nos ombros. No entanto, alguns/mas jovens se recusam a servir e, no exercício democrático de objeção de consciência, cumprem a pena de prisão para não compactuarem com algo com que não concordam. A discordância pode ser de origem religiosa (judeus ultra-ortodoxos são isentos do serviço militar), ou por não concordarem com a própria militarização da sociedade e, especialmente, serem contra a ocupação da Palestina. Desde 1967 Israel mantém o território palestino não só ocupado, mas colonizado. Cada vez mais colônias têm sido construídas e habitadas por colonos/as israelenses em terras palestinas. Além de, novamente, contrariar o Direito Internacional a ocupação traz consequências avassaladoras para o povo palestino, como o apartheid. Israel controla todo o território, logo tem domínio sobre a água e a energia elétrica também. Enquanto casas palestinas estão sujeitas à falta de ambos, nas colônias nunca falta esse tipo de suprimento. Além disso, nem todas as estradas e checkpoints podem ser utilizadas por palestinos/as. Algumas são exclusivas para colonos/as. Em última instância, Israel controla a vida e a morte de cada palestino/a, em uma relação altamente assimétrica; basta lembrar que o porte de arma é ilegal para quem vive na Cisjordânia e muitos protestos são pacíficos, sem quaisquer tipos de armas, nem mesmo pedras. Contudo, algumas estratégias são utilizadas pelo Estado de Israel para que o mundo não veja o genocídio praticado contra o povo palestino. Uma delas é o pink-washing, ou seja, o uso de direitos LGBTQIA+ para dar a impressão ao mundo de que um país que respeita a diversidade não poderia estar engajado em uma limpeza étnica. Outra tática, semelhante, é o vegan-washing: o uso do discurso dos direitos animais sem, de fato, se preocupar com a prática, com a intenção, tão somente, em apresentar uma imagem amigável (vegan friendly). Nesse contexto, quando o exército israelense oferece refeições veganas e vestuário sintético, ele está fazendo vegan-washing. Um exemplo que nos mostra que os animais estão sendo usados para esse fim é o uso de cães vindos da Holanda e treinados para atacar palestinos e árabes, distinguidos pelas suas roupas e linguagem. Os cães são utilizados como um meio de consolidar a ocupação militar israelense na Palestina, ferindo e matando pessoas. Não há nada de vegano nisso. Se o veganismo está comprometido com o fim da exploração animal, não deve ser conivente com a opressão humana. E o que nós podemos fazer de longe, além de não bater palmas para o vegan-washing? Uma das possibilidades é apoiar o BDS (Calls for Boycott, Divestment and Sanctions against Israel), movimento de boicote, desinvestimentos e sanções, contra o Estado de Israel. O boicote foi utilizado para pressionar o fim da segregação racial na África do Sul e agora tem sido utilizado pelo fim do apartheid na Palestina. Uma primeira ação poderia ser conhecer o trabalho da Palestinian Animal League, uma organização que atua no território palestino em prol da libertação animal e humana. Desta forma, é possível apoiar as ações protagonizadas pelo próprio povo palestino, conhecer as diferentes maneiras pelas quais a opressão é perpetuada e a maneira pela qual podemos, por meio de práticas individuais e coletivas, boicotá-la. Publicado na coluna Último Crime, da sobinfluencia edições, em 19 de setembro de 2021https://www.sobinfluencia.com/post/vegan-washing